A luta de Ana Hikari contra a sina de ser “estrangeira no próprio país”
Aposta da Globo, atriz traz sua vivência como mulher amarela e bi no Brasil, critica a falta de representatividade na mídia e o mito da minoria modelo


Ana Hikari é hoje um dos principais nomes da Rede Globo. A frente de séries de sucesso como As Five, a atriz interpretou Tina, a primeira protagonista asiática da emissora, em Malhação: Viva a Diferença, em 2017. Quando a gente lembra que a primeira telenovela exibida pela Globo foi em 1965, ou seja, há 56 anos, fica evidente que a falta de representatividade é um problema antigo, sendo a representatividade amarela bastante pontual. Afinal, quantas vezes você já se deparou com um personagem que tinha ascendência asiática, mas foi interpretado por um ator branco que reforçava estereótipos culturais bastante problemáticos? “Nunca somos vistos como parte da sociedade brasileira. Por muito tempo as pessoas me apelidavam de ‘Japa’, e eu odeio isso, porque dá a sensação de que eu não pertenço a este lugar. Eu sou brasileira! Eu nasci aqui, minha mãe nasceu aqui, meu pai nasceu aqui… E as pessoas me tratam sempre como estrangeira no meu próprio país. Só que, ao mesmo tempo, se eu for para o Japão, eu também vou ser tratada como ‘aquela que vem de fora’, por mais que eu tenha o fenótipo japonês. Então, falta na sociedade brasileira essa compreensão de que somos parte dela. Quando as pessoas começarem a compreender isso, elas vão entender que a gente pode estar ali em uma novela fazendo uma personagem sem o recorte asiático. É isso que falta na representatividade da mídia, porque sempre chamam a gente para papeis brifados, e junto desse briefing vem todos os estereótipos que a gente abomina, como o do mito da minoria modelo”, relata Ana, que ganhou recentemente o prêmio “Mulheres Que Transformam 2021”, do Grupo XP, por seu ativismo online, algo que também garantiu a ela uma vaga na lista da Forbes Under 30.

Para entender o mito da minoria modelo, podemos usar como exemplo a Lara Jean, da trilogia Para Todos os Garotos. Ela tem ascendência coreana e carrega consigo características que já são pré-esperadas: ser fofa, educada, inteligente na escola, fashionista e um pouco tímida.Além disso, quando vemos uma pessoa asiática na mídia, ela é sempre o mais próximo possível do padrão social e comportamental aceito pela sociedade: “O padrão de beleza que por muito tempo é ditado pela mídia nunca correspondeu à minha identidade. Quando uma menina amarela tem menos traços asiáticos, ela é aceita como mais bonita, é vista como mais dentro do padrão, porque o padrão é caucasiano e não tem olho puxado, não tem traços amarelos. Por muito tempo, eu achei que fosse feia”, lembra a atriz. Ana também explica que esse mito da minoria modelo tem a ver com uma imagem de controle que colocam sobre as pessoas e que foi criado por uma branquitude para utilizar um grupo racial para oprimir outro: “Esse mito serviu durante muito tempo aqui no Brasil para reforçar falas como: ‘Olha, pessoas negras, vocês chegaram aqui para serem mão de obra igual aos japoneses. Por que eles conseguiram enriquecer e melhorar de vida, e vocês não?’. Sendo que isso é uma falácia”.
A falta de representatividade na mídia, os estereótipos daquilo que se espera de uma mulher amarela e a sensação constante de ser estrangeira no próprio país fizeram com que a artista enfrentasse uma crise de identidade muito profunda. “Uma questão que tenho muito forte em mim é essa necessidade de ser impecável, de estar sempre fazendo o melhor possível. Isso gera um nível de autocobrança muito alto e, muitas vezes, inalcançável, que faz com que a gente se deprecie cada dia mais. Quase todas as minhas questões de identidade são raciais. Se a branquitude soubesse a quantidade de questões que a gente leva para a terapia que são raciais, faria vaquinha para pagar nossas sessões. Se a sociedade trabalhasse essas questões, seria muito mais fácil e efetivo“, opina a atriz, que conta que foi durante a faculdade, nas reuniões do coletivo feminista da ECA-USP, que descobriu que ter consciência racial é importante, empoderador e libertador, e faz a gente entender mais sobre privilégios, mesmo sendo mulher e vivendo em uma sociedade estruturalmente machista. “Eu acho que a urgência maior talvez seja a de que todas as pessoas que se reivindicam enquanto feministas possam ter essa consciência de que o feminismo só vai adiante se a gente compreender quais são essas especificidades de raça e a maneira como o machismo afeta diferentemente cada uma das mulheres. A partir disso, todo mundo em conjunto, começar a questionar não só o seu lugar enquanto mulher, mas a maneira como a mulher preta é tratada, a maneira como a mulher asiática é tratada, e dentro dos seus privilégios começar a questioná-los“, acredita Hikari, que gosta de usar as redes sociais para promover debates sobre o assunto de forma acessível: “Não adianta chegar com um vocabulário acadêmico e ninguém entender nada do que você está falando. Eu acredito muito que eu não vou ser livre enquanto outra pessoa não for. Então, se eu reivindicar minha liberdade enquanto mulher, mas não pensar na liberdade de outras mulheres, nunca vou ser livre. Essa é a consciência que a gente tem que ter“.
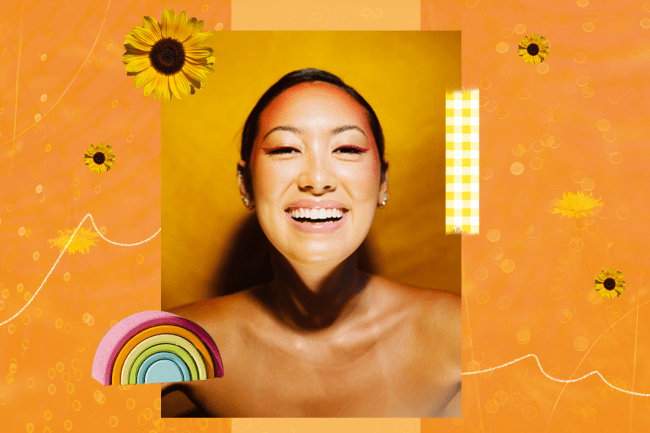
As vivências das mulheres brasileiras são muitas e diversas, e a vivência da Ana Hikari como mulher amarela no Brasil é diferente da sua vivência como menina amarela, que é diferente da vivência da sua amiga que tem ascendência asiática. Além do recorte racial, no caso da atriz, é interessante também fazer o recorte da sexualidade, já que Ana é uma mulher bissexual – e a gente sabe como a bissexualidade ainda é tratada de forma preconceituosa no país, vide episódio recente que ocorreu no BBB21 envolvendo o participante Lucas Penteado. “Já conversei com algumas amigas sobre o quanto a gente tem medo de falar publicamente que é bi porque a sensação é a de que a qualquer momento as pessoas vão confiscar nossa sexualidade, além do preconceito com nossas relações. Quando eu era adolescente, ouvia muito que era nojento meninas beijarem meninas, e eu carrego essa lembrança na minha cabeça até hoje. Esses comentários foram construindo um medo em mim de falar sobre o que eu sentia, então o início da minha sexualidade foi muito suprimindo minha relações com mulheres e depois, mais para frente, suprimindo o falar em público sobre isso ou o falar que era da comunidade LGBTQIA+, porque em muitos momento eu nem me sentia parte dela“, conta. Para exemplificar essa questão, Hikari lembra que, também na época da faculdade, alguns próprios membros do coletivo LGBTQIA+ da ECA-USP diziam que talvez fosse melhor ela participar das reuniões só quando estas fossem abertas. “Ainda tem muito preconceito na sociedade em cima de rótulos como gay e lésbica, mas a bissexualidade ainda nem está sendo considerada um rótulo, parece que as pessoas estão descobrindo agora. É como costumo brincar: até ontem, as pessoas achavam que o B de LGBT era de Beyoncé. Bissexuais existem, nós estamos aqui”, alerta em tom de brincadeira, mas com muita seriedade.
Apesar dos muitos e diversos conceitos de ser mulher no Brasil, algo é unanime entre todas as lutas: a concepção de que ser mulher é parar de aceitar as coisas que por muito tempo nós aceitamos. “Quando eu fui agredida, não sabia para onde ir. Eu fiquei a madrugada inteira me culpando e pensando que eu teria que seguir minha vida, como se aquilo tivesse sido algo natural. É sobre sobre ser um ponto de apoio, um ponto de informação, um ponto de revolução”, pontua a artista nesta linda entrevista que concedeu para a CAPRICHO.
Obrigada, Ana, por dividir um pouco da sua vivência como mulher brasileira com a gente. Somos tantas, somos diversas, somos fortes!


 New Star: Natalie Alyn Lind é uma das protagonistas de The Gifted
New Star: Natalie Alyn Lind é uma das protagonistas de The Gifted Luísa Sonza aparece com penteados peeem menininha
Luísa Sonza aparece com penteados peeem menininha Estas cenas foram gordofóbicas em ‘Wonka’ e te explicamos o porquê
Estas cenas foram gordofóbicas em ‘Wonka’ e te explicamos o porquê





